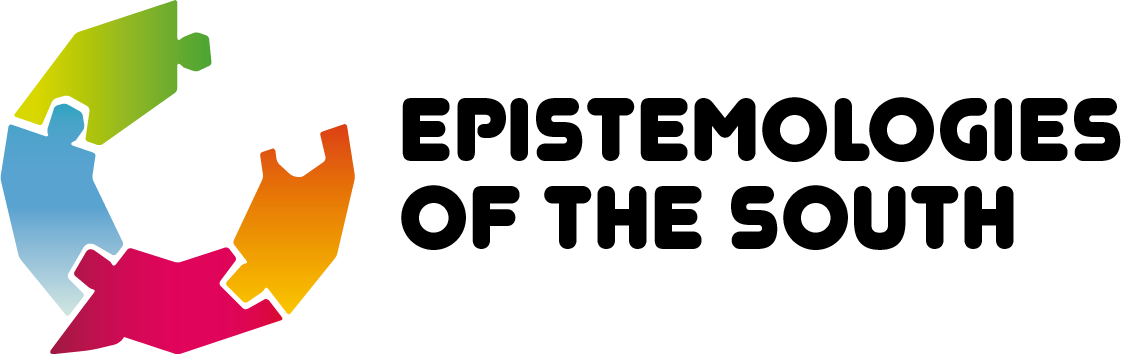
A Europa vive um período de pânico moral que não só torna impossível pensar com alguma complexidade e densidade analítica a tragédia por que está a passar a Ucrânia como cria um novo período de caça às bruxas muito semelhante ao que se viveu nos EUA na década de 1950 e que ficou conhecido por Macarthismo. Não atingiu ainda os níveis de censura e de repressão política com base em acusações de traição e de subversão por supostas simpatias com o comunismo que caracterizou aquele período, mas é de suspeitar que lá poderemos chegar.
Os sinais são perturbadores. A besta fera agora não é o comunismo, é Putin e a russofilia, e é russófilo quem não for suficientemente enfático na defesa dos "valores ocidentais". A histeria instalada pelo bombardeamento mediático é tal que não é possível contra-argumentar, contextualizar, apresentar informação que contradiga a narrativa instalada. De alguma forma, a lógica unanimista e auto-multiplicadora das fake news que correm nas redes sociais generalizou-se à comunicação mediática hegemónica. Não é que as notícias sejam necessariamente falsas; é apenas impossível introduzir notícias ou análises contrastantes ou apenas contextualizadoras. Tão pouco é possível dar notícia de outros assuntos relevantes que nos ajudem a ver que, por mais importante e trágico que seja o que se passa na Ucrânia, não é o único acontecimento importante e trágico ou digno de notícia que se passa no mundo. Só dizer isto em tempo de pânico moral é ser candidato à acusação de relativismo. Alguns exemplos da minha experiência pessoal podem ajudar a ilustrar a situação.
Sobre a complexidade e polarização
A primeira grande ausência produzida pela extrema polarização é a complexidade das análises. Sobre a crise na Ucrânia escrevi até agora os seguintes textos que podem ser consultados por estarem online: "A ONU na encruzilhada”; “Como chegámos aqui”; “É ainda possível pensar com complexidade?”; “Para uma autocrítica da Europa”. Em todos os textos procurei contextualizar o que se está a passar e dar informações menos acessíveis, mas muito relevantes para entender os acontecimentos.
No seu conjunto, as minhas análises visaram evitar o simplismo dos bons e dos maus e dar instrumentos para avaliações mais cuidadas e menos propícias a justificar aventuras belicistas onde as populações civis inocentes são sempre as grandes vítimas. O último texto, publicado em 10 de Março no jornal Público de Portugal, um dos principais jornais de referência do país, mereceu um ataque injusto, injurioso, violento e descontrolado do director do jornal.
Estes momentos de histeria colectiva e de extrema polarização, que tornam impossível a complexidade ou o pensamento contra-corrente, são cada vez mais frequentes. Na minha longa vida passei já por três momentos desses, em que paguei um preço por insistir em pensar com complexidade e independência. O primeiro foi logo depois da Revolução de 25 de Abril de 1974 que devolveu a democracia aos portugueses e abriu caminho para a independência das colónias portuguesas em África e na Oceânia. Na altura, houve uma viragem brusca e radical à esquerda, e quem não estivesse connosco estava contra nós. Nessa altura, ser de esquerda era ser do Partido Comunista ou de algum dos partidos de extrema esquerda (leninista, estalinista, maoista, trotskista, etc.). Penso que fui na altura o único director de uma Faculdade de Economia em Portugal que não era filiado no PCP ou num partido de extrema esquerda. Simpatizava com o MES (Movimento de Esquerda Socialista), inspirado em Rosa Luxemburgo. Fui publicamente acusado de ser um agente da CIA (talvez porque tinha acabado de terminar o meu doutoramento na Universidade de Yale…). Valeram-me os estudantes ao eleger-me (não sabiam se eu era da CIA, mas pelo menos sabiam que eu fora o único professor a ensinar-lhes Karl Marx antes da revolução de Abril).
O segundo momento foi no 11 de Setembro de 2001. Estava nos EUA – onde, nos últimos 35 anos, vivi quase metade de cada ano, afiliado à Universidade de Wisconsin-Madison – e participava num debate na Universidade de Columbia (Nova Iorque) sobre direitos humanos. Porque na minha intervenção, e apesar de ter condenado veemente o ataque às Torres Gémeas, ousei falar da necessidade de respeitar os direitos humanos em todas as circunstâncias e não desistir de continuar o diálogo intercultural com o mundo Islâmico que, na sua esmagadora maioria, era amante da paz, fui invectivado violentamente pelos meus colegas de Harvard que quase me consideraram filo-terrorista. Nos anos seguintes, estes colegas viriam a justificar a tortura e outras coisas piores contra a Constituição dos EUA.
Estamos num novo tempo de extrema polarização. Não a vi na invasão e destruição do Iraque nem noutras (muitas) situações. Para mantermos a capacidade de pensar mesmo nos momentos de perigo, como nos ensinou Walter Benjamin, não é nunca saudável que se atinja este nível de polarização. Tal como não é aceitável passar em silêncio a violência das atrocidades quando elas ocorrem mais longe de nós e não mobilizam a nossa comunicação social. A vida humana para mim tem um valor incondicional. É terrível o sofrimento dos ucranianos que queriam tão pouco a guerra quanto qualquer de nós. Mas dói-me igualmente as mortes injustas que ocorreram nos mesmos dias noutras guerras em outras regiões do mundo.
Nenhuma morte injusta pode relativizar ou justificar qualquer outra morte injusta. Segundo uma conhecida organização que regista as mortes em guerra em todo o mundo, eis a estatística do período inicial da invasão da Ucrânia (20 de Fevereiro-4 de Março): 114 (Ucrânia), 23 (Iraque), 511 (Iémen), 187 (Síria), 192 (Mali), 527 (Nigéria), 155 (República Democrática do Congo), 180 (Somália), 112 (Burkina Faso). E se incluirmos os conflitos internos, alguns dos quais são parificáveis à guerra civil, teremos de acrescentar: 258 (México), 242 (Brasil), 81 (Colômbia), 124 (Myanmar), 38 (Afeganistão). (ACLED. Acessível aqui). O facto de nenhuma das outras tragédias ter merecido qualquer atenção dos meios de comunicação não tem para mim outro significado ou interesse senão o de me permitir conhecer os mecanismos sociológicos da formação do pânico moral e da indignação pública.
Os silêncios como sociologia das ausências
As situações de extrema polarização e concentração unidimensional mediática criam dois tipos de silêncios: o primeiro é relacionado com aspectos dos fenómenos híper-narrados ou com eles relacionados que, por não corresponderem ao script imposto, são activamente desnoticiados; o segundo tipo de silêncio diz respeito a outros acontecimentos não relacionados com o laser mediático e que só por essa razão são considerados indignos de notícia.
O silêncio do racismo e do colonialismo
Quanto ao primeiro tipo de silêncio, escolho o modo como, em momentos de emergência e de polarização, os preconceitos e as práticas racistas e colonialistas são activados com uma virulência agravada causando muito sofrimento injusto que não chega aos ecrãs ou às páginas dos noticiários. A histeria mediática sobre a Ucrânia atingiu sobretudo o eixo do Atlântico Norte, o qual inclui também a Austrália, o Japão e o Brasil. Noutras regiões do mundo, a crise da Ucrânia foi de algum modo relativizada por dizer respeito a agressões armadas (invasões, bombardeamentos, mortes de civis inocentes) de que elas têm sido repetidamente vítimas, ou por estarem neste momento a confrontar-se com outros problemas que lhes parecem mais graves ou, pelo menos, mais próximos (fome, falta de água e de vacinas, violência jihadista).
Mas quando a crise da Ucrânia assumiu alguma dramaticidade nas notícias desses países foram abordados temas quase completamente silenciados nos media do eixo do Atlântico Norte. No dia 28 de Fevereiro, a União Africana emitiu um veemente comunicado contra o comportamento “chocantemente racista” das autoridades das fronteiras entre a Ucrânia e a Polónia, ao discriminarem contra cidadãos africanos a viver na Ucrânia e a tentar fugir da guerra, submetendo-os a um tratamento desigual em razão da sua cor. Basicamente, tratava-se de os pôr no fim de todas as filas, quer no acesso aos transportes, quer na passagem da fronteira e no acolhimento. Entretanto, dez dias depois, a respeitada rede Jewish Voice for Peace anunciava que Israel estava a instalar os refugiados ucranianos que decidira acolher nos territórios dos Palestinianos que ilegalmente ocupa no Vale do Jordão e Naqab. Solidariedade internacional à custa da opressão colonial dos verdadeiros titulares da terra.
O silêncio da inovação democrática
O segundo tipo de silêncio diz respeito a acontecimentos não relacionados com a orgia mediática e que apontam para a diversidade do mundo. Na Europa, a inauguração de Gabriel Boric como novo presidente do Chile passou quase totalmente despercebida. E, no entanto, é a todos os títulos um acontecimento importante. Trata-se da eleição democrática do mais jovem presidente da América Latina (36 anos), vindo dos movimentos sociais (antigo líder estudantil) que lutaram nos últimos anos pela democratização profunda do Chile, uma luta onde as mulheres e os povos originários, nomeadamente Mapuche, tiveram um papel preponderante. É o país de Salvador Allende, morto durante o golpe militar de 1973 que abriu caminho para uma das mais sangrentas ditaduras do século passado.
Num acto de grande simbolismo, o Presidente Boric, enquanto se dirigia ao Palácio de La Moneda, sede da Presidência chilena, quebrou o protocolo, saiu do tapete vermelho e saudou a estátua de Allende que fica em frente ao local. É igualmente significativo que uma das sua ministras seja neta de Allende e, para mais, Ministra da Defesa.
O primeiro discurso de Boric como presidente chileno é um documento histórico. Num país fracturado pela desigualdade económica, pela discriminação étnico-racial e pelo conflito social, Boric fez um vibrante apelo à união com justiça social. Num país minado pelo etnocentrismo, salientou a diversidade dos povos que integram o Estado Chileno, nomeadamente os povos originários com o direito a que se respeite a sua identidade cultural e territorial. Num país com uma violenta tradição de Estado repressivo, Boric convocou ao fortalecimento de um Estado social, protector das classes sociais mais vulnerabilizadas pelo neoliberalismo predador que atravessou o país nas últimas décadas. Num país que tem em curso uma Convenção Constitucional da qual pode sair uma das Constituições mais progressistas do mundo, Boric prometeu todo o apoio ao processo constituinte em curso e ao plebiscito que se seguirá para aprovação da nova Constituição.
Nada isto mereceu atenção dos média. Mas foi aqui que se semeou uma nova esperança democrática para o Chile, para a América Latina e para o mundo.
Os artigos de autoria dos colunistas não representam necessariamente a opinião do IREE.
Boaventura de Sousa Santos é sociólogo e poeta. É professor Catedrático Jubilado da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e Distinguished Legal Scholar da Faculdade de Direito da Universidade de Wisconsin-Madison e Global Legal Scholar da Universidade de Warwick. É Diretor Emérito do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e Coordenador Científico do Observatório Permanente da Justiça. Tem trabalhos publicados sobre globalização, sociologia do direito, epistemologia, democracia e direitos humanos.