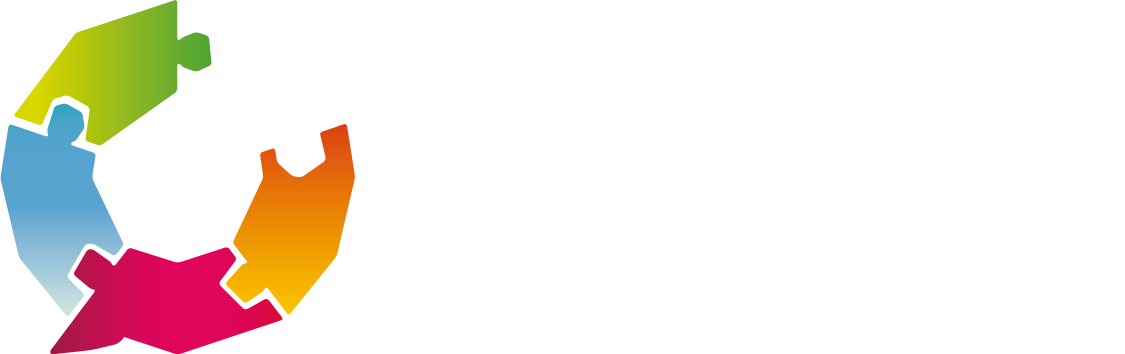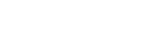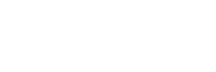Carolina de Jesus
Histórias e Territórios das Mulheres Afro-Latinas
A tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar. Mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Comecei a sentir a boca amarga. Pensei: já não basta as amarguras da vida? 1, 2
Carolina de Jesus nos mostrou de forma contundente as agruras de ser negra, mulher e pobre, entrando sem pedir licença nos salões canônicos, brancos, masculinos e burgueses da literatura brasileira, em meados do século XX. Ao se recusar a cumprir os papéis subalternos de gênero e raça impostos pela sociedade racista e patriarcal, ela coloca em xeque a ordem social dada pelos padrões hegemônicos. Vendeu 70 mil exemplares de seu primeiro livro e 10 mil do segundo, numa época em que colocar 4 mil livros em circulação já era um feito. Foi traduzida em 14 idiomas, alcançando cerca de 40 países nos anos seguintes.
A partir de seu corpo de mulher negra e pobre e de seu contexto geohistórico, o hemisfério Sul, o Brasil, a escritora narra um mundo de preconceitos, em pleno vigor do mito da democracia racial. Embora sua obra tenha sido visionária e de estrondoso sucesso inicial, foi rapidamente abafada, pois era demasiado impactante para o Brasil daquele período. Depois do êxito de Quarto de Despejo, seus outros livros e músicas, de igual ou superior qualidade, foram desprezados sob os usuais subterfúgios da colonização do poder e do saber. Sua escrita foi repudiada, seus erros ortográficos destacados, todo o preconceito linguístico foi destilado com uma única razão: não era possível suportar uma intelectual mulher e negra nos circuitos canônicos nacionais. Foi assim, barrada no baile da elite literária e expulsa da história como tantos/as negros/as cujo protagonismo tem sido constantemente negado.
Mais de duas décadas após a sua morte, sendo uma das brasileiras mais lidas no exterior, em especial nos centros de estudos latino-americanos, seu trabalho começa a ser resgatado e, no presente, é referência imprescindível para uma nova geração militante feminista e antirracista. O reconhecimento de Carolina de Jesus no estrangeiro deve-se, sobretudo, ao seu talento em humanizar a pobreza e a fome:
Fui na feira da Rua Carlos de Campos, catar qualquer coisa. Ganhei bastante verdura. Mas ficou sem efeito, porque eu não tenho gordura. Os meninos estão nervosos por não ter o que comer.
[...] Eu não tinha um tostão para comprar pão. Então eu lavei 3 litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os livros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro de papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne. 1 quilo de toucinho e 1 quilo de açúcar e seis cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se.
[...] Deixei o leito as 6,30. Fui buscar água. Fiz café. Tendo só um pedaço de pão e 3 cruzeiros.
Ao dar corpo, sentimento, história e sonhos aos reveses de uma vida de escassez, seu texto é muito mais incisivo e revelador do que quaisquer relatórios técnicos e dados oficiais. Não é por mero acaso que está incluída no Dicionário Mundial de Mulheres Notáveis, publicado em Portugal, em 1967, sendo uma das duas únicas brasileiras a constar da Antologia de Escritoras Negras, organizada nos EUA, duas décadas mais tarde. Contudo, Carolina de Jesus permanece, até hoje, fora do circuito literário nacional, limitando-se a poucos centros de pesquisas acadêmicos.
A escritora ousa expor o racismo estruturante da sociedade brasileira, antecedendo a contundente denúncia feita pelos jovens do hip-hop, décadas depois. O seu relato, ainda que permeado de ambiguidades, desconstrói de forma incisiva o mito freyriano da democracia racial, o qual além de estancar o debate sobre as desigualdades étnico-raciais no país, ainda se prestou aos interesses do então chamado “Império Português” e sua propaganda para demonstrar ao mundo o diferencial de sua colonização “tolerante e fraterna”.
A despeito de seu texto inovador, a voz de uma mulher negra e pobre não foi ouvida. A escuta seletiva do patriarcado preferiu as vozes masculinas para a desconstrução do mito da democracia racial: de Florestan Fernandes ao hip-hop, passando pelos primórdios do Movimento Negro Unificado, todos protagonizados por homens.3 É somente com a emergência dos movimentos de periferia nos anos 2000, concomitantes à popularização do empoderamento feminino, que a escritora negra ganha visibilidade e torna-se orgulho de toda uma nova geração de ativistas. Jovens, mulheres e negras se reencontram em Carolina de Jesus, extraindo ferramentas fundamentais para combater o patriarcado e o racismo de sua potente narrativa:
Os meus filhos não são sustentados com pão de igreja. Eu enfrento qualquer espécie de trabalho para mantê-los. E elas [as vizinhas] têm que mendigar e ainda apanhar. Parece tambor. À noite quando elas pedem socorro eu tranquilamente no meu barracão ouço valsas vienenses. Enquanto os esposos quebram as tábuas do barracão, eu e meus filhos dormimos sossegados. Não invejo as mulheres casadas da favela que levam vida de escravas indianas. Não casei e não estou descontente.
Mas ainda é pouco. Há muito mais ensinamentos nas suas linhas: a sociedade precisa parar para ler Carolina de Jesus. Seus livros são dignos de leitura obrigatória nas escolas e seu nome merece batizar muitas bibliotecas, não meramente a do Museu Afro-Brasil. Sua narrativa pungente ultrapassa as fronteiras nacionais, ecoando com a luta por reconhecimento e equidade travada pelas negras latino-americanas as quais, apenas muito recentemente, começam a se organizar enquanto identidade política de luta e resistência.
Pele Negra, Máscara Negra
Em sintonia com o seu tempo, Carolina de Jesus escreve Quarto de Despejo entre 1955 e 1958, pouco depois da publicação de Peau Noire, Masques Blancs, de Frantz Fanon. Enquanto este se propõe a uma profunda reflexão, que constituir-se-á numa referência para o debate sobre a violência colonial e racismo, Carolina de Jesus marcou a cena literária nacional com uma narrativa em primeira pessoa, revelando um mundo cindido. Já não será possível velar o racismo numa fictícia democracia racial, o machismo que vitimiza cotidianamente tantas mulheres e, tampouco, o abismo de classes, todos herança da dominação colonial subjacente à modernidade ocidental. Suas letras constituem um desabafo inscrito com o suor da luta pela sobrevivência, em um país que libertou os escravos, mas não os tirou da escravidão:
...Choveu, esfriou. É o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida. E eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com dois cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha à Dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz. Eram nove horas da noite quando comemos.
E assim no dia 13 de maio de 1958 eu lutava contra a escravatura atual – a fome!
Tão poucas e ácidas palavras denotam ao mesmo tempo a condição racial imbricada à subalternização de classe. A materialidade de sua pele negra, de seu corpo de mulher e de marcas da pobreza em sua trajetória de vida são indiscerníveis de sua literatura. Ela sabia disso, ousando desafiar a elite branca a cada página:
Quando pus a comida o João sorriu. Comeram e não aludiram a cor negra do feijão. Porque negra é a nossa vida. Negro é tudo que nos rodeia [...] A vida é igual um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós quando estamos no fim da vida é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha, até aqui, tem sido preta. Preta é a minha pele. Preto é o lugar onde eu moro.
Ou mesmo, desconcertá-la, confundi-la com suas ironias sutis, as quais permeiam todo o livro Casa de Alvenaria:
Creio que devo ficar contente em nascer no Brasil, onde não existem ódios raciais. São os brancos que predominam. Mas são humanos e a lei é igual para todos. Se analisarmos os brancos mundiais, os brancos do Brasil são superiores.
Seu segundo livro é publicado em 1961, sem alcançar o mesmo sucesso do primeiro. As obras seguintes, Pedaços da Fome e Provérbios, ambas de 1963, foram cruelmente rejeitadas, fato a evidenciar a condescendência paternalista que tolerou um transitar fugaz de Carolina de Jesus pelo universo abastado, branco e masculino das letras. À semelhança das exposições coloniais, à escritora negra lhe foi permitido ingressar na “sala de visitas”, desde que a distância estabelecida para esta “Outra”, fosse resguardada, mantendo-a como o “bibelot” dos salões literários. Este mecanismo de distanciamento instaura a superioridade daquele que consente o convívio, de modo que subitamente Carolina de Jesus é expurgada deste universo, sendo hodiernamente mantida à margem dos estudos canônicos.
É facto que o contexto político nacional com a instauração da ditadura em 1964 não foi permeável a obras polêmicas como essa. Contudo, Carolina de Jesus foi olvidada ainda durante o governo João Goulart, notadamente adepto às reivindicações sociais e reformas de base. Ademais, as críticas ao mito da democracia racial postuladas por Florestan Fernandes, ainda que tenham ficado latentes devido à franca oposição ao regime militar, serão rapidamente retomadas na reabertura política de meados dos anos 1970. Todavia, num contexto de apaziguamento deliberado do debate racial durante o regime ditatorial, nem todos foram refutados ou resgatados de mesmo modo. Apesar da contemporaneidade das obras e da sintonia com o debate internacional, a mulher, negra e pobre sempre é muito mais silenciada.
O quarto de despejo e a sala de visitas
Em 1955, na favela do Canindé, em São Paulo, Carolina de Jesus está exausta e pensa na vida atribulada que leva: catar papel, lavar roupa para fora, permanecer na rua o dia todo e estar sempre em falta: filhos sem comida, sem roupas e sem sapatos. Quando fica nervosa, escreve. No mesmo ano, em Montgomery, no Alabama, outra negra, Rosa Parks, se recusa a ceder seu lugar no ônibus a um branco, vindo a ser presa por este motivo. A costureira torna-se um marco na luta pelos direitos civis dos negros estadunidenses. A despeito de seu feito e relevância histórica, assim como Carolina de Jesus, Rosa Parks chegou ao fim da vida com uma série de dificuldades financeiras, mesmo com a forte luta antirracista em seu país nas décadas seguintes. No Brasil, a trajetória da luta antirracista teve caminhos próprios, ainda que em alguma medida, em diálogo com o contexto internacional. A falsa democracia racial na qual vivia Carolina de Jesus, produzia sensações e narrativas complexas na construção das identidades negras no país, muitas das quais contadas pela própria escritora:
Hoje é 13 de maio, dia consagrado aos pretos, que vivem tranquilos mesclados com os brancos. Hoje é um dia que nós os pretos do Brasil podemos bradar: Viva os brancos!
No mesmo período, um dos maiores astros do futebol mundial, Pelé, navega pelas águas contraditórias da identidade política. O jogador acreditava que quanto mais atenção fosse dada ao racismo, mais ele seria aguçado, reflexão que profere ainda hoje. Em 1957, o jovem Pelé ganhava sua primeira copa do mundo. Carolina de Jesus continuava no Canindé, catando latas e sem certeza da comida para alimentar os filhos. A década seguinte marcou a ascensão do futebolista e da escritora. Sem embargo, o declínio e o esquecimento fizeram parte unicamente da história dela.
Naquelas décadas, desafiar o sistema, sendo mulher, negra e pobre não poderia ser perdoado. Havia muito ainda a ser feito para que fosse possível suportar as denúncias incisivas de Carolina de Jesus. A autora não gozava de qualquer privilégio na sociedade racista e patriarcal. Foi preciso um repórter – homem e branco – lançar o seu livro, para que tivesse minimamente impacto. Seu lugar de enunciação era tão subalterno que o racismo, amparado na exotização do Outro, não pôde permitir que aquelas falas tivessem ressonância. Era imperioso abafar o Outro, mostrar a ele, no caso ela, o seu “devido” lugar. O tema é tão assustadoramente contemporâneo que em pleno 2015 lê-se pichado na parede do banheiro de uma das mais conhecidas universidades privadas do Brasil: “Fora PT e devolvam os pretos para a senzala”.
A casa não é uma metáfora, é uma disputa política
O espaço, a habitação e o território são intrinsecamente ligados ao debate sobre as relações raciais no Brasil. Se a controversa tese de Gilberto Freyre caiu por terra, ao sobrevalorizar e romantizar os processos de miscigenação racial no país, ocultando a violência inerente à dominação colonial, a Casa Grande e a Senzala não poderiam sintetizar mais diretamente o lugar do branco e do negro numa sociedade racista. Em similitude, o quarto de despejo – a favela, e a sala de visitas – a cidade formal, traduzem, em Carolina de Jesus, a segregação socioespacial e racial das cidades contemporâneas. A autora compreende profundamente a disputa espacial, territorial e simbólica. Ainda que tenha conseguido sua casa de alvenaria, deslocando-se do quarto de despejo para a sala de visita na grande metrópole, o mesmo não aconteceu com o seu lugar simbólico, de produção de sentidos e de enunciação. A ela, não foi permitido mais do que aparecer como “atração” nos salões literários, versão tupiniquim das exposições coloniais, que mostravam orgulhosamente os negros e as negras a serem “civilizados” pelos brancos. No entanto, Carolina de Jesus não aceitou este papel que lhe fora imposto. Continuou escrevendo exaustivamente e já no seu segundo livro, Casa de Alvenaria, assinala sem pruridos o cinismo da suposta democracia racial, tão bem servil às ditaduras em ambas margens do Atlântico, em pleno século XX.
Ao ocupar a sala de visita, a autora narra o desconforto da elite branca com a negra “fora de lugar” que transitava pelas suas festas e chás: “eu ainda não habituei com este povo da sala de visita – uma sala que estou procurando um lugar para sentar”. O deslocamento da senzala foi tão desconfortável que rapidamente seria necessário colocar a negra em seu devido lugar: submissa à casa grande, submissa aos cânones da erudição intelectual. Mas ela não se curvaria a tais desígnios, não! Esta era a mulher que caminhou mais de 500 quilômetros de Sacramento a São Paulo, que criava três filhos sozinha e que se fortalecia em sua escrita, com a qual construiu solidamente a sua identidade política. Sem subalternizar-se ou tampouco aceitar o lugar paternalista concedido à “negra exótica”, à “negra de alma branca”, a autora perguntava como quem afirma: “Será que o preconceito existe até na literatura? O negro não tem direito de pronunciar o clássico?”.
A seu modo, portanto, Carolina de Jesus subverte a ordem espacial inerente à “harmonia racial”, na qual a Casa Grande pertence aos brancos e a Senzala aos negros. Ao impor-se na sala de visitas não haveria volta: “Agora eu estou na casa de alvenaria”. O preço foi alto, pois nem os literatos nem os vizinhos estavam preparados para este Outro deslocado. Os olhares recriminatórios não eram limitados a si, agora atingiam também seus filhos, acusados de “tudo que é mal feito nesta rua”. Tal fardo impeliu-a a mudar-se para um sítio isolado no extremo sul da capital paulista, onde viveu esquecida até a sua morte, em 1977.
Em outras palavras, a “sala de visitas” nunca foi confortável para quem tem a pele negra. Ainda que a disputa pelo território seja intensificada pelos interesses do capital e acirramento da luta de classes, canta-se até hoje, nos versos de Mano Brown, que nos “quartos de despejo, negro e branco pobre se parecem, mas não são iguais”, É nos bairros sem infraestrutura, sem transporte, com moradias precárias, mais expostas a riscos ambientais, onde encontramos a maior parte da população negra, não apenas no Brasil. Um dos mais trágicos legados da dominação colonial foi a profunda segregação espacial de base racial que marca as cidades. No Mundo, são muitos os “quartos de despejo” onde vivem os pobres, predominantemente negros e não-brancos.
O reconhecimento de que a segregação espacial não se limita à classe social é fundamental para estabelecer estratégias de superação, motivo pelo qual Carolina de Jesus é uma das mais importantes leituras, inclusive para os estudos do território. Lamentavelmente, o saber científico tem sido pouco permeável aos debates étnico-raciais e a conhecimentos não científicos. O que significa saber que são quase 10 milhões de brasileiros em situação de extrema pobreza? Ou então, que são 400 mil na cidade de São Paulo? No conjunto de sua obra, a autora humaniza com maestria o que as estatísticas e dados oficiais não dão conta de traduzir. Transformar esta realidade de números abstratos, de tão imensos, e simultaneamente tão reais, posto que encorpados em pessoas que sofrem cotidianamente as agruras da pobreza, é tarefa hercúlea. A descrição pormenorizada da dureza do cotidiano, enfatizada na redação repetitiva, nos arremessa aos horrores do que é ser extremamente pobre, negra e mãe solteira:
[...] Sentei ao sol para escrever. A filha da Sílvia, uma menina de seis anos passava e dizia: - Está escrevendo, negra fedida! A mãe ouvia e não repreendia.
[...] Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circos. Eles respondiam-me: - É pena você ser preta.
[...] Fechei a porta e fui vender latas. Levei os meninos. O dia está cálido. E eu gosto que eles recebam raios solares. Que suplício! Carregar a Vera e levar o saco na cabeça.
Não apenas as marcas da luta pelo território são expostas, mas a centralidade da “casa” em sua obra e na sua vida é igualmente reveladora do quão negligente tem sido, para boa parte da população mundial, o atendimento ao direito à moradia adequada, um dos direitos fundamentais para a vida das pessoas, preconizada em 1948. Neste sentido, a casa é um dos personagens principais de suas tramas. No Diário de Bitita, é a casa do passado que abre a narrativa:
Nossa casinha era coberta de sapé, as paredes eram de adobe. Todos os anos tínhamos que trocar o capim, porque ele apodrecia, e tínhamos que trocá-lo antes das chuvas. Minha mãe pagava dez mil-réis por uma carroça de capim. O chão era soalhado, era de terra dura, condensada de tanto pisar.
Outras vezes, é a casa do futuro: “- Não fique triste mamãe! Nossa Senhora Aparecida há de ter dó da senhora. Quando eu crescer eu compro uma casa de tijolos para a senhora”.
Há na obra de Carolina de Jesus um requintado entrelaçamento temporal e geográfico: um corpo que habita um lugar específico, mas que é fruto de um lugar simbólico de um Outro inferiorizado imposto difusamente no imaginário social. É o tempo estendido de séculos que construiu o desrespeito de gênero e raça contra a mulher negra, o qual tende a se perpetuar em seus filhos e filha. Trata-se da constituição da sujeita negra, uma antítese do Homem Universal configurado pela modernidade ocidental, cuja existência enquanto personagem histórica tem sido brutalmente negada. A saída da favela e a intromissão na sala de visita não será, todavia, suficiente.
É no romance Pedaços da Fome, de 1963, que a autora desvela pistas para a superação dos sistemas de opressão. A sobrevivência da protagonista Maria Clara, fora da sua zona de conforto, só será possível por meio da rede de ajuda mútua e colaborativa formada pelas vizinhas, todas mulheres, antecedendo, de certa maneira, o que hoje é compreendido por “sororidade”. E, exercendo a sororidade com a própria escritora, muitas vezes julgada por não se juntar formalmente a movimentos sociais, é fulcral perceber a complexidade, em sua época, para uma mulher negra se reconhecer como ativista, seja feminista seja no movimento negro. No incipiente cenário de lutas por direitos no país, as mulheres organizadas eram brancas e, por sua vez, o movimento negro era basicamente masculino. Novamente, Carolina de Jesus ocupava um entre-lugar, expondo ao mesmo tempo toda a opressão inerente às categorias universais e universalizantes próprias da modernidade. Ainda que não tenha formulado em termos acadêmicos, o recente conceito de interseccionalidade é intrínseco à sua escrita o reconhecimento dos múltiplos sistemas de opressão, transitando com muita facilidade nas críticas ao patriarcado, ao racismo, ao capitalismo e ao regime colonial.
Finalmente, Carolina de Jesus rechaça os critérios hegemônicos de saber, de desenvolvimento e de produtividade, os quais naturalizaram o mito da cidade como o locus civilizacional da modernidade ocidental. Em Pedaços da Fome, uma análise mais rasa poderá apontar que a despeito da força das personagens femininas, a redenção de Maria Clara se dá no seu resgate pelo pai, figura masculina. No entanto, uma leitura mais atenta poderá compreender que os dois homens principais da trama são, de facto, uma crítica ao mito da cidade grande, em contraposição à vida do interior. Paulo, o marido de falsas promessas, não por acaso, é referência direta a São Paulo e, o pai, provedor desvalorizado pela jovem, é quem a salvará dos infortúnios e da fome, levando-a de volta à fartura, à terra. A reforma agrária, inclusive, é tema recorrente em sua obra, quando a escritora defende que as terras devem ser livres e distribuídas pelo governo. Em adição, nas memórias narradas em Diário de Bitita, na bucólica Sacramento, localidade de passado esclavagista no interior do país, Carolina de Jesus constrói um excepcional retrato do Brasil rural nas primeiras décadas do século passado. Não ficam de fora as explorações dos colonos pelos donos da terra, os abusos de patrões, a falta de amparo legal do trabalhador (as leis trabalhistas só viriam a existir em 1943), o racismo impregnado numa sociedade recentemente livre de escravizados e o lugar ingrato das/os mestiças/os neste ambiente.
A pouca educação formal da escritora nunca foi um obstáculo para uma compreensão política perspicaz do mundo e de seu tempo, comentando assuntos tão diversos quanto as ações de John Kennedy para o fim da segregação racial nos EUA, o assassinato do líder do pan-africanismo Patrice Lumumba ou o posicionamento do Capitão Henrique Galvão contra as arbitrariedades de Salazar.
É preciso, urgentemente, considerar a perspectiva da intelectual negra, ao invés de ignorá-la em função de juízos de valor que nos dizem mais, afinal, sobre a própria modernidade ocidental e muito pouco sobre o pensamento de Carolina de Jesus. A ecologia de saberes tão necessária para o salto paradigmático no século XXI necessita ultrapassar definitivamente a discussão enfadonha e irrelevante sobre a [falta de] qualidade literária de Carolina de Jesus e de outras escritoras negras, com base no cânone. O facto é que a voz, o corpo, o lugar e a obra de Carolina de Jesus são absolutamente significativos para as novas gerações, fazendo-se tão insurgente quanto necessária para o empoderamento de quase 50 milhões de mulheres negras no Brasil.
Além disso, esta é uma matéria da mais ampla magnitude hoje em dia, corroborada pelas Nações Unidas ao proclamar, em 2013, a “Década Internacional de Afrodescendentes 2015-2024”, com o tema: “Afrodescendentes: reconhecimento, justiça e desenvolvimento”. Em sintonia, na América Latina, os últimos anos foram igualmente marcados pela desconstrução do “mito branco” e pelo esforço de dar visibilidade a milhares de afro-latinos. Por conseguinte, as mulheres negras latino-americanas são cruciais para esta redefinição simbólica. Carolina de Jesus soma voz à peruana Victória Santa Cruz, ambas figuras fundamentais para reverter a expulsão do negro e mais ainda, da negra, como protagonistas na história do subcontinente. Num momento em que a América Latina se reconhece negra, a obra de Carolina de Jesus está mais atual do que nunca.4
1 Andréia Moassab é arquiteta e urbanista, mestre e doutora em comunicação e semiótica. É autora do livro “Brasil Periferia(s): a comunicação insurgente do hip-hop”, finalista do prêmio Jabuti 2013, na categoria ciências humanas. Atualmente é docente da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA/Brasil).
2 Agradeço o diálogo profícuo com Joice Berth, Mayara Costa, Bruno Oliveira e Luciane Lucas dos Santos.
3 Não quero com isso afirmar que não há mulheres fundamentais na histórica luta antirracismo no país, como é o caso de Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento ou Benedita da Silva. Todavia, ao contrário dos homens, os seus nomes não são facilmente citados fora dos redutos militantes, pois que permanecemos imersos numa sociedade patriarcal.
4 Foram corrigidos os eventuais erros ortográficos nas citações diretas, por considerar que a escolha editorial de preservá-los denota um tratamento desigual entre autores e colabora para reforçar o lugar subalterno no qual a escritora vem sendo injustamente mantida.
Referências
Jesus, Carolina de (1961), Quarto de Despejo. São Paulo: Francisco Alves.
Jesus, Carolina de (1961), Casa de Alvenaria. Rio de Janeiro: Paulo de Azevedo.
Jesus, Carolina de (1963), Pedaços da Fome. Rio de Janeiro: Paulo de Azevedo.
Jesus, Carolina de (1986), Diário de Bitita. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
Como citar
Moassab, Andréia (2019), "Carolina de Jesus", Mestras e Mestres do Mundo: Coragem e Sabedoria. Consultado a 01.07.25, em https://epistemologiasdosul.ces.uc.pt/mestrxs/?id=27696&pag=23918&id_lingua=2&entry=32399. ISBN: 978-989-8847-08-9