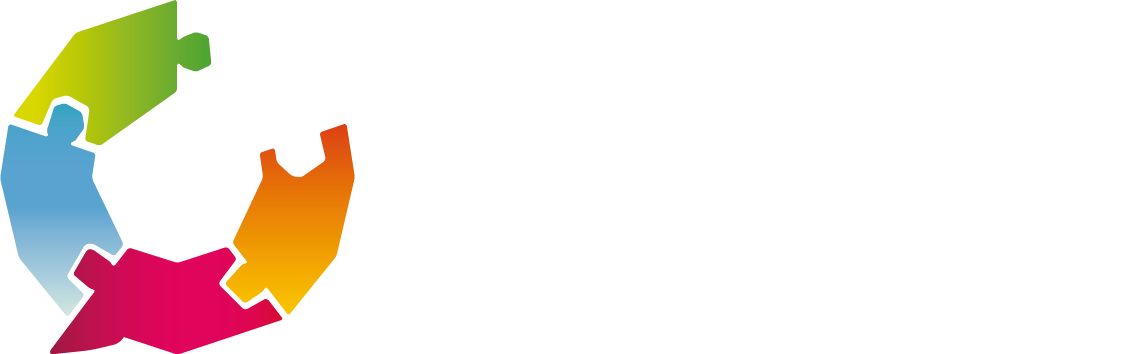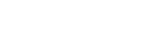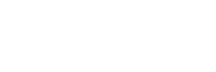Galdino Pataxó Hã Hã Hãe
GALDINO VIVE!
“Sirvo até de adubo para minha terra, mas dela não saio.”
Samado dos Santos Pataxó Hã Hã Hãe
Quando pensamos na ideia de Mestras e Mestres do Mundo∗, pensamos em sujeitos que se destacaram por alguma obra em livros, textos, filmes, pinturas, enfim, alguém que produziu saber por uma narrativa escrita ou imagética, acrescentando algo para as diversas histórias da humanidade. Mas, e aqueles homens e mulheres sem obras? Como falar de alguém que só deixou o corpo, o rastro e a memória? O que dizer das práticas políticas orais dos sem teto, dos quilombolas, dos sem-terra, dos ribeirinhos e das mulheres camponesas? Como pensar os exercícios estéticos das mulheres rendeiras e dos artesãos? E as lideranças indígenas que não deixaram uma obra escrita sobre o seu pensamento, sobre suas vidas?
No nordeste brasileiro as lições dos/as Mestres indígenas, o corpo e a voz, ecoam nos cantos e rituais dos povos que lutam pelo respeito à diferença, nos lamentos pela guerra fundiária ainda presente no cotidiano dessas populações, nas manifestações e atividades dos índios em movimento. Nessas práticas é que encontraremos os testemunhos de lideranças que empenharam suas vidas na luta contra a opressão sofrida por seus povos, como o Caboclo Marcelino, Chicão Xucuru, Maçal Tupaý, Mario Juruna, Maninha Xucuru-Kariri, Marcos Veron Guarani Kaiowá e Galdino Pataxó Hã Hã Hãe.
Esses líderes são um testemunho da história de violência que marca a relação entre os povos indígenas e a sociedade brasileira. Todos, com poucas exceções, morreram de luta; foram assassinados violentamente durante o processo político de retomada de suas terras. Essas são as histórias que merecem ser contadas como a história das lutas indígenas, a partir da rememoração dos nossos mortos, articulando diferentes temporalidades: o passado e o futuro, porque suas vidas não se foram com a morte. Os antepassados se tornam encantados, caminham conosco para nos lembrar que sem eles não estaríamos aqui; quiçá por isso falar dessas lideranças também é falar de Babau Tupinambá da Serra do Padeiro, Marquinhos Xucuru, Sônia Guajajara, Neguinho Truká e tantos outros líderes de hoje que tomam os encantados como referência para a realidade que aspiramos.
Dentre essas referências, a figura de Galdino Pataxó Hã Hã Hãe se destaca como um símbolo da luta indígena pelo direito básico de existir, não por sua trágica morte, mas sim pelos agenciamentos epistemológicos e políticos que, a partir dela, reverberaram. Galdino Jesus dos Santos foi assassinado na madrugada do dia 20 de abril de 1997, por cinco jovens oriundos da classe média da cidade de Brasília, capital do país, que lhe atearam fogo.
Foi essa tragédia que tornou Galdino conhecido no mundo dos brancos como o ‘índio’ que foi queimado vivo; foi essa tragédia que também fez o ‘índio’ retornar, no final da década de 1990, ao discurso mediático dos brancos. Nesse caso, a condição do retorno foi pela morte trágica, como um fim em si, motivo de comoção e lamento. Para nós, indígenas, entendendo a comoção e o lamento, temos outras nomenclaturas possíveis que podem renomear Galdino, não apenas como ‘o índio morto pelo branco’, mas como corpo vivo, coletivo, constituinte do histórico cenário das lutas dos povos indígenas no Brasil, e agenciador do seu porvir.
Logo após o seu assassinato, Galdino já se fazia presente nos discursos e práticas dos Hã Hã Hãe, dos Guarani e Kaiowá, dos Tupinambá, dos parentes na Raposa Serra do Sol e de tantos outros que ansiaram por justiça. Práticas que hoje ocorrem em todo o país, aludindo ao nome de Galdino como um símbolo de resistência dos oprimidos. Líderes que nunca o conheceram, mas sabem de sua história, porque ela está entrelaçada às centenas de histórias dos povos indígenas das Américas que rememoram Galdino nas suas lutas políticas. Por isso, para falar de Galdino, quero creditar as histórias que ouvi, como indígena, pertencente ao povo Xucuru-Kariri; ser o ouvinte, o escutadeiro das pessoas que, direta ou indiretamente, me confidenciaram os ensinamentos de alguém que se faz presente pela memória, ratificando o modo como as epistemologias dos povos do sul são movimentadas nos saberes do corpo, tanto individual quanto coletivo.
Assim, não apostarei em uma narrativa sistemática da vida do Galdino, aos moldes de uma leitura biográfica, pretendo sim catar os pedaços soltos nas nossas práticas políticas, na nossa história diária, nos nossos modos de produzir textualidades, para apresentá-lo como híbrido de discursos, situações e elementos histórico-culturais advindos de horizontes absolutamente diversos, porém reescritos nos saberes coletivos do movimento político dos povos indígenas pela retomada das suas terras e de si.
Espero levar ao leitor esse testemunho, pois, cumprindo tal expectativa, poderemos nos juntar aos meus parentes indígenas, que rememoram seus mortos por meio das lutas políticas até os dias de hoje, afirmando que os guerreiros antepassados estão entre nós. Sim, Galdino vive!
Apesar de ter sido criado na mesma região que Galdino, no sul do estado da Bahia, eu não convivi com ele. No período de sua militância mais aguerrida, que culminou com seu assassinato, eu ainda era uma criança. Não distinguia uma liderança de outra. Em minha mente só me recordo de figuras corpulentas, cheirando “urucum” e piaçava1 e que discutiam os rumos do movimento indígena enquanto eu tomava café da manhã. O pouco que escrevo aqui foram as lideranças mais velhas e os parceiros indigenistas que me contaram e, principalmente, meu pai, o “Tonhi Grica”, do povo Xucuru-Kariri. Ele acompanhou Galdino mais de perto, assim como boa parte das retomadas do território Pataxó Hã Hã Hãe na década de 1990.
Nas minhas andanças pelo território Hã Hã Hãe, na região sul do estado da Bahia – Brasil, sempre tive acolhimento e uma boa conversa com os líderes Nailton Muniz, Maria Muniz, Akanawan Baenã (Arainha), Ãnpohá, Agnaldo dos Santos, Flavio Barbosa, Margarida Oliveira, Maura Titiah, Paulo Titiah, Luis Titiah. Agradeço a eles pelas histórias que me contaram. O agradecimento se estende a José Augusto Sampaio, Maria Hilda e Jurema Machado, os quais me forneceram preciosas histórias por meio de seus ditos e escritos sobre o povo Pataxó Hã Hã Hãe.
A família de Galdino Jesus dos Santos, do povo Kariri-Sapuiá, foi expulsa por colonos e fazendeiros da região do Recôncavo, no estado da Bahia. Parte do grupo chegou até o sul do estado, na recém criada Reserva Indígena Caramuru Paraguaçu. A criação dessa reserva remonta ao final do século XIX, quando a expansão da lavoura cacaueira culminou na invasão das terras de diferentes povos indígenas. No início do século XX, os conflitos entre fazendeiros e a população indígena levaram o Estado brasileiro a se posicionar, destinando uma área de 180.000 hectares para os índios. Porém, quando se criou a Reserva Indígena Caramuru-Paraguaçu, a área foi reduzida para menos de um terço, resultando em 54.105 hectares de terras.
Diferentes povos foram agrupados nesse espaço, muitas vezes de forma violenta, como os Pataxó Hã Hã Hãe, Baenã, Kariri-Sapuyá e Índios de Olivença. Com o tempo, muitas pessoas passaram a se identificar somente com o nome de Pataxó Hã Hã Hãe. Nas décadas de 1950 e 1960, o Estado passou a arrendar parte da Reserva para particulares interessados na criação de gado e na produção de cacau. Para maquiar essa situação ilegal, o governo do estado da Bahia, com a conivência do Governo Federal, concedeu títulos de domínio de terras para fazendeiros instalados na Reserva.
Com o passar dos anos, a invasão, com anuência do Estado, levou a um processo violento de diáspora. Muitos Hã Hã Hãe foram forçados a abandonar suas terras, devido aos conflitos com os invasores. Poucos permaneceram na Reserva. Na década de 1970 os Hã Hã Hãe estavam num processo de desagregação em relação ao seu território, desmobilizados e com suas terras roubadas.
Entretanto, enquanto se declarava a morte dos índios no nordeste brasileiro, um impressionante movimento de afirmação identitária teve início. Após mais de meio século de esbulhos de suas terras, os vários povos que compõe os Pataxó Hã Hã Hãe, juntamente com parceiros da causa indígena2, iniciaram um processo de retomada do território roubado. A família de Galdino é uma das mais atuantes nesse processo, sendo uma das que permaneceu no território mesmo após o início das diásporas. Em 1982, ano de retomadas de terras presentes na antiga área da Reserva Indígena Caramuru Paraguaçu, a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), órgão responsável pela política indigenista, entrou com uma ação de nulidade de títulos da área indígena que fora invadida, mas formalmente vendida pelo próprio Estado que deveria proteger os direitos daquele povo.
A resistência se intensifica na década de 1990, pois dos 54.105 hectares reivindicados, os Hã Hã Hãe estavam assentados numa área de 1.079 hectares, nos municípios de Pau Brasil, Camacan e Itajú do Colônia, no sul da Bahia. A situação do grupo era crítica, vivendo numa área reduzida e em precárias condições de vida: alta mortalidade infantil, epidemia de cólera e conflitos fundiários envolvendo particulares e a própria polícia militar.
Na busca pela resolução desses conflitos e do reconhecimento oficial pelo Estado do verdadeiro território Hã Hã Hãe, Galdino viajou pela primeira vez para Brasília em 1993 junto com outras lideranças indígenas. Longe de aceitar a submissão, os Pataxó Hã Hã Hãe continuaram a resistir. Eles adotavam a estratégia de se dividirem em 3 grupos. O grupo maior realizava as retomadas, ocupando áreas invadidas. Enquanto isso, dois outros grupos viajavam para a cidade de Salvador, capital do estado da Bahia, e para Brasília, capital do país, a fim de pressionar os poderes públicos pela demarcação de suas terras. No ano de 1997, no mês de abril, Galdino acompanhou um grupo de oito parentes que se dirigiu a Brasília para reivindicar o seu território e participar das manifestações do Dia do Índio e do Movimento Sem Terra3.
No dia 19 de abril, o grupo Hã Hã Hãe participou de uma audiência no Palácio do Planalto4 e das comemorações do Dia do Índio. Após os compromissos, retornaram às pensões em que estavam hospedados, com exceção de Galdino e de um grupo de lideranças Bororo, que continuaram nas comemorações. Ao retornar, sozinho, Galdino teve sua entrada negada pela proprietária da pensão, que alegou estar muito tarde para a entrada do hóspede. Galdino ainda saiu à procura de uma outra pensão, mas, ao perceber que o sol estava quase nascendo, resolveu descansar na rua até o dia amanhecer.
Dormindo no banco de uma parada de ônibus na Asa Sul, bairro central da cidade, foi tragicamente assassinado. Cinco rapazes, filhos da elite local de Brasília, segundo eles próprios, “brincaram” de incendiar a nossa liderança. Após horas de agonia, ele faleceu. Com 95% do corpo queimado (85% de queimaduras de terceiro grau e 10% de lesões parciais profundas), Galdino se tornou uma das 30 lideranças Hã Hã Hãe assassinadas desde 19825.
Quantas histórias se entrelaçam na história de Galdino? Incontáveis, se pensarmos Galdino não como facto em si, com começo meio e fim, mas sim pela episteme indígena do encantamento, que leva em conta a irradiação, a ressonância que a entidade produz. A trajetória de Galdino ganhou notoriedade nos media internacionais, mas principalmente na opinião pública brasileira. Galdino levou o país a discutir temas cruciais, muitas vezes deixados de lado pela inércia do dia a dia. Seu assassinato expôs o contexto de violência da formação da sociedade e do Estado brasileiros, que tem como vítimas preferenciais os homens e mulheres subalternizados, principalmente negros, índios, homossexuais e pobres.
Galdino lembrou a todos do conflito por terras envolvendo povos indígenas, mas também abriu um debate sobre a sociabilidade e sensibilidades entre indivíduos na sociedade brasileira contemporânea. Não foram poucos os jornalistas, lideranças políticas, artistas, autoridades governamentais e cidadãos comuns que passaram a debater nas ruas a questão da violência no país, a segregação entre ricos e pobres, principalmente no tratamento dado pela Justiça, a impunidade dos criminosos, o descaso para com as demandas indígenas, em especial para com a demarcação de suas terras.
Também não deixaram de se manifestar os intelectuais sobre sua história, transformando sua vida num agenciamento de saberes. Paulo Freire deixou uma carta inacabada, seu derradeiro escrito. Indignado com o ocorrido, ele nos adverte da necessidade urgente de defendermos princípios éticos fundamentais, como o respeito à vida dos seres humanos, dos outros animais, dos pássaros, dos rios e das florestas. Sua pedagogia da indignação nos diz:
“Que coisa estranha, brincar de matar índio, de matar gente. Fico a pensar aqui, mergulhado no abismo de uma profunda perplexidade, espantado diante da perversidade intolerável desses moços desgentificando-se, no ambiente em que decresceram em lugar de crescer.” (Freire, 2000: 31).
Já o sociólogo Boaventura de Sousa Santos, numa aula de inquietação na Universidade de Brasília, nos fala sobre o respeito à diferença e à dignidade humana. Quando ele vem a Brasília, a cada parada de ônibus a memória resgata Galdino: A lembrança de que para alguns um vagabundo, um mendigo não tem dignidade humana. Para Boaventura, um rebelde competente, nos dias de hoje sabe que a realidade é feita pelos antepassados e pelas aspirações do futuro e, principalmente, que todos têm dignidade humana, pois a humanidade somos todos nós ou não será ninguém (Santos, 2014).
Todas essas ressonâncias expandem Galdino, revelando o seu caráter de metáfora, de revelador de epistemes subalternas que agenciam saberes pelo corpo, entrelaçando inúmeras histórias de vida. Quantas histórias se entrelaçam na de Galdino? Muitas, porque ele é mais do que um crime bárbaro. Galdino é plural, porque é memória coletiva, porque mistura histórias e epistemes, ensinando ao mundo sobre resistência, luta por valores como território, convivência entre diferentes e respeito à vida, que os povos indígenas insistem em defender.
Por esse testemunho, e pelas lições que a metáfora Galdino nos ensina ainda hoje, é que o considero um Mestre do Mundo cuja história deve ser contada. Aqui, no Brasil, nós, indígenas, ainda estamos começando o processo de contar a nossa própria história pela escrita. Contamos com poucas publicações, mas muitas ideias. Nas entrevistas filmadas com as lideranças indígenas que realizo nas minhas andanças, todos me solicitam o material para lhes auxiliar nos livros que escreverão sobre suas vidas, sobre a história de seus povos. Nessas conversas com as lideranças, escuto muitos relatos do contexto dos índios no país, sobre a violência que sofrem por parte de indivíduos, grupos econômicos com interesses em suas terras e pelo próprio Estado; sobre a dificuldade de sensibilizar a sociedade e o Estado para o atendimento de nossas demandas. Daí a reação com as retomadas de terras, de línguas, de cantos, de histórias.
Seguir as narrativas daqueles que só deixaram o corpo e nada mais, segue como uma necessidade para o pesquisador preocupado com a transformação social. Neste exato momento em que escrevo, o vestígio das lideranças indígenas, sem uma obra escrita ou imagética, nos leva novamente para o sul da Bahia. O exército brasileiro está na região para intervir no conflito entre índios, fazendeiros e posseiros. O caso agora envolve os Tupinambá, num dos locais mais violentos do Brasil – ironicamente, na mesma região na qual esse país surgiu -, com conflitos que ceifam histórias e vidas. O passado, mais de quinhentos anos depois, retorna num momento de perigo, rememorando os mortos de ontem e os de agora.
Galdino é um desses líderes, uma lembrança viva de que não estamos sozinhos nos momentos de conflito. Por isso creio que Galdino vive e ainda viverá por muito tempo, pois o presente é uma atualização do passado. Não no sentido da sua construção tal como ele foi, mas da sua reconstrução, da sua rememoração. O passado emerge, cobrando da geração presente suas pendências. Para isso existem os povos vigilantes, subalternizados, mas resistentes, como nós indígenas, que cobramos justiça rememorando aqueles que morreram de luta.
Rafael Xucuru Kariri é indígena do povo Xucuru-Kariri. Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia (UFBA - Brasil). Agradeço à Suzane Lima Costa, Fabio André Diniz Merladet e Boaventura de Sousa Santos, sem os quais este texto não existiria.
1 Urucum é um fruto vermelho do urucuzeiro utilizado por vários povos indígenas, principalmente para pinturas no corpo. Piaçava, é um dos nomes populares de duas espécies (Attalea funifera e Leopoldinia piassaba) de palmeira cujas fibras são usadas na fabricação de vassouras, artesanato e coberturas de cabanas.
2 Destaca-se o nome da pesquisadora Maria Hilda Baqueiro Paraíso e de pesquisadores ligados à organização não governamental Associação Nacional de Ação Indigenista (ANAI).
3 O mês de abril é simbólico para a luta dos movimentos indígenas no Brasil. Nele se comemoram oficialmente o Dia do Índio (19 de abril) e a invasão do país pelos europeus (22 de abril). Os movimentos indígenas criaram uma agenda de manifestações na cidade de Brasília nesse período, reunindo-se várias lideranças indígenas no “Acampamento Terra Livre” e no “Abril Indígena”, a fim de reivindicar junto ao Governo as demandas de suas aldeias. Infelizmente, também se tornou o aniversário de morte de Galdino.
4 Sede do Poder Executivo Federal – Presidência da República.
5 Essa estatística do terror ainda contabiliza 235 casos de violência praticados contra índios entre os anos de 1996 e 1997; Em 1995, 25 índios morreram assassinados no país; Entre os anos de 2003 a 2012 esse número aumenta para uma média de 56 assassinatos por ano, ou 564 lideranças indígenas assassinadas no período; Um desses tantos mortos foi João Cravim, jovem liderança e irmão de Galdino, morto à facada numa emboscada relacionada ao conflito por terras.
Referências
Freire, Paulo (2000). Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo: UNESP.
Piubelli, Rodrigo (2012). Memórias e imagens em torno do índio Pataxó Hãhãhãe Galdino Jesus dos Santos (1997-2012). 2012. 138 f. Dissertação (Mestrado em História) - Instituto de Ciências Humanas, Universidade de Brasília, Brasília.
Santos, Boaventura de Sousa (2014). Aula de Inquietação na Universidade de Brasília. 30 de outubro de 2012. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=mmE2PcevUjU. Acesso em: 12 fev. 2014.
Souza, Jurema Machado de Andrade (2002). Mulheres Pataxó Hã Hã Hãe: corpo, sexualidade e reprodução. (Monografia de Conclusão de Curso de Antropologia) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Universidade Federal da Bahia, Salvador.
Como citar
Kariri, Rafael Xucuru (2019), "Galdino Pataxó Hã Hã Hãe", Mestras e Mestres do Mundo: Coragem e Sabedoria. Consultado a 11.07.25, em https://epistemologiasdosul.ces.uc.pt/mestrxs/?id=27696&pag=23918&id_lingua=1&entry=29585. ISBN: 978-989-8847-08-9