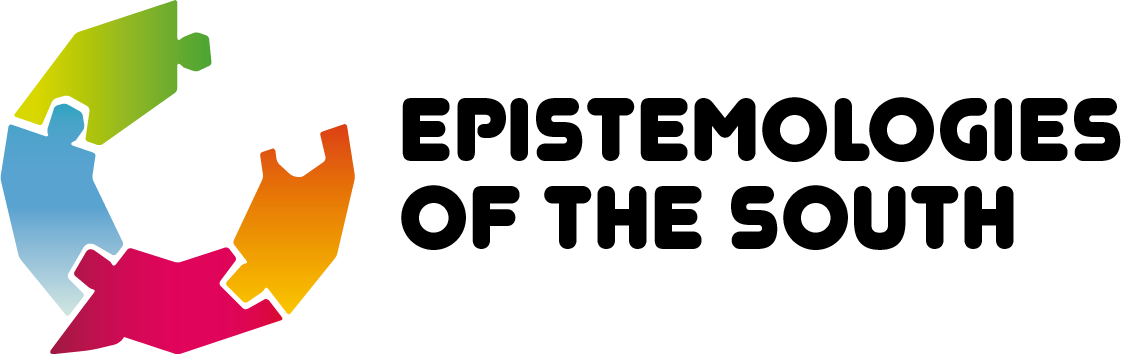
Verdadeiramente nunca vivemos no futuro (nem no passado). Por outro lado, o que chamamos presente é apenas o momento de interface entre a memória reconfortante ou inquietante do que fomos e a antecipação, auspiciosa ou fatídica, do que vamos ser. Os finais de ano prestam-se a que esse momento, que está sempre presente, se manifeste sob a forma de interpelação. Nisso consistem os balanços e os planos. Esta enigmática dinâmica temporal, centrada no que já não vivemos e no que nunca viveremos, ocorre tanto ao nível individual como ao nível social. O meu foco é o social, mas a análise é válida, com adaptações, em todos os níveis da vida humana.
A memória e a antecipação não são coisas distintas. São modos diferentes de avaliar a condição existencial em função do medo e da esperança que ela suscita. Quatro combinações são possíveis. A memória inquietante e uma antecipação fatídica são o espelho do medo sem esperança; a memória reconfortante e a antecipação auspiciosa são o espelho da esperança sem medo; a memória reconfortante e a antecipação fatídica são o espelho da perda e dos limites impostos por determinações, imposições, ou fatalidade; a memória inquietante e a antecipação auspiciosa são o espelho da resistência e das possibilidades, da desestabilização dos limites, da resistência às imposições e da falibilidade dos determinismos. Este é o tempo em que cada indivíduo, grupo social ou sociedade tenta definir a sua condição existencial. É à luz dela que se afirmam propósitos e se tomam decisões. Nos tempos de globalização fracturada e fracturante em que vivemos, outros dois níveis de avaliação condicionam todos os níveis anteriores. Refiro-me aos níveis mundial e planetário.
Este ano os europeus em geral parecem condenados a combinar a memória inquietante com uma antecipação fatídica, o que deve dar origem a muito medo e muito pouca esperança. Esta é a combinação ideal para desestimular o activismo cidadão e alimentar a extrema direita. Para justificar esta asserção há que juntar razões e emoções. Esta junção tem sido estranha a todo o pensamento político e económico liberal que domina nos países ocidentais. Para esta linha de pensamento o comportamento humano assenta em decisões humanas racionais e nos cálculos que delas decorrem. Razões e cálculos são estáveis e podem ser aferidos ou avaliados racionalmente. A ideia de que pode haver decisões políticas e cálculos irracionais sempre foi relegada para o campo das patologias. Raramente se tem em mente que Tucídides, o grande historiador da Guerra do Peloponeso, considerava que “os homens são motivados pela honra, pela avareza e, sobretudo, pelo medo”. Ou se reconhece que um dos fundadores do pensamento liberal, Thomas Hobbes, considerava que as paixões e as emoções são naturais e inescapáveis – desde a compaixão, desejo e honra ao desprezo, inveja e tristeza. Segundo Hobbes, as paixões descontroladas tornam os humanos inseguros e traiçoeiros. Clausewitz, por sua vez, defendia que a guerra, enquanto fenómeno total, era uma mistura de razões, sorte, probabilidades e forças cegas, como a violência, o ódio e a inimizade. Mais recentemente tem-se considerado que as ansiedades individuais estão na raiz do nacionalismo e que este não se explica sem a propagação de sentimentos de ódio (contra os outros, os inimigos) e de amor (para com os nossos).
As razões. As razões para o excesso do medo em detrimento da esperança por parte dos europeus são conhecidas. São o continente que, pesem embora as assimetrias internas, mais bem-estar distribuiu a mais gente durante os últimos setenta anos. Tal distribuição foi politicamente designada como social-democracia e o seu reflexo social foram as amplas classes médias. Muitos países do sul e do leste europeu tinham vivido mais tempo em ditadura do que em democracia mas o fim da guerra, o fim das ditadura do sul da Europa nos anos de 1970 e a queda do Muro de Berlim no final dos anos de 1980 fizeram crer que a democracia estava plenamente consolidada e duraria para sempre. O mito da progressiva convergência entre os níveis de desenvolvimento fomentado pela União Europeia favoreceu essa crença. O facto de Portugal, por exemplo, ter deixado de convergir há mais de vinte anos em nada afectou o senso comum de que a convergência era o destino. Tudo isto foi racionalizado como sendo o resultado da superioridade dos europeus face aos outros países, muitos deles antigas colónias europeias.
Acontece que tudo isto só foi possível porque os EUA o tornaram possível na sua qualidade de superpotência, emergente da segunda guerra mundial como o país mais poderoso do mundo. Foi por iniciativa dos EUA que a imensa dívida externa acumulada pela Alemanha em duas guerras perdidas fosse em grande medida perdoada. Foram os EUA que permitiram que os países europeus não gastassem os orçamentos em despesas improdutivas e potencialmente destrutivas, como são os armamentos militares. Organizaram a OTAN, o simulacro colectivo do poderio militar norte-americano. Tudo correu de feição até que as condições de acumulação do capital a nível global fizeram ver aos EUA que a Europa se desenvolvia a um ritmo “excessivo”, sobretudo a Alemanha que, sobretudo depois da queda do Muro de Berlim, se expandia para Leste, criava laços económicos e políticos fortes com a rival Rússia (ao ponto de um ex-primeiro ministro se tornar CEO de uma empresa russa, a Gazprom) e abria os braços à China, para além do que permitia a geopolítica norte-americana. A política de contensão da Europa por parte dos EUA começou já em meados dos anos de 1980 com o Consenso de Washington e a consagração global do neoliberalismo que legitimava o capitalismo liberal norte-americano como o único viável. O Consenso de Washington foi uma espada apontada ao coração da Europa. De repente, a social democracia era insustentável e a economia europeia era dita pouco dinâmica, não tanto por causa do primeiro choque do petróleo uma década antes, mas sobretudo pelo facto de as democracias europeias estarem especialmente sobrecarregadas com um excesso de direitos sociais e de bem-estar para vastas camadas da população. Assim foi construída a crise da social-democracia. E, como sempre, as pressões externas nunca operam sem comparsas internos. O primeiro foi Tony Blair e a terceira via (sempre a Inglaterra incapaz de deixar de ser um império). Depois foi a União Europeia e especificamente a Comissão. Como individualmente os países europeus tinham comportamentos “irrazoáveis”, a Comissão passou a ser o alvo privilegiado da contensão. Em termos proporcionais, o número de lobistas de empresas norte-americanas em Bruxelas é comparável ao seu número junto do Congresso em Washington. Os menos distraídos terão notado o entusiasmo de Durão Barroso no apoio à invasão ilegal do Iraque, quando muito países europeus se tinham manifestado contra. E também terão notado que, já no tempo de Barack Obama, o único governante europeu cujo telefone foi espiado pelos EUA para fins de concorrência industrial foi Angela Merkel, a primeira ministra da economia-chefe da UE. E terão ainda notado que a NATO, apesar de o nome indicar que visa defender exclusivamente o Atlântico Norte, foi posta ao serviço dos desígnios norte-americanos na Líbia, no Afeganistão, na Síria e amanhã certamente no Mar da China.
Tornou-se claro que em política internacional não há free lunches. Mas a segunda fase da cobrança ainda estava por vir. O pretexto foi a guerra da Ucrânia. Um acto ilegal, precipitado e condenável de Vladimir Putin foi utilizado pelos EUA para pôr a Europa finalmente na ordem, tanto no plano político como no plano económico. Não só para isso, obviamente. Também para conter a China, neutralizando o seu mais importante aliado e, se for possível, fechar o caminho de acesso da China à Europa através da Eurásia. Mas os europeus e especialmente o martirizado povo ucraniano são, para já, os grandes perdedores de uma guerra que se podia ter evitado e que, depois de eclodir, teria sido facilmente terminada e sem grande sofrimento humano. Sem armas de dissuasão próprias nem recursos naturais, a Europa fica para sempre à mercê dos EUA. Primeiro, a guerra foi económica, depois foi guerra militar e geoestratégica. Em suas relações com os EUA, a Europa que sairá da guerra da Ucrânia será um Estado associado dos EUA, ou seja, um imenso Porto Rico.
Os mais distraídos continuarão surpreendidos pela dedicação patriótica da sra. Ursula von der Leyen aos interesses geopolíticos dos EUA, apesar de ser óbvio o empobrecimento da Europa e o enriquecimento dos EUA, por todas as razões e sobretudo pelas armas pesadas que vendem à Europa e que a Europa terá de pagar um dia, uma dívida imensa que os cidadãos terão de pagar apesar de não terem sido ouvidos para a aprovar. A democracia europeia funcionou para impor factos consumados a cidadãos incautos e impotentes, vítimas do mau hábito do confiar que em Bruxelas alguém vela e zela pelo bem-estar de todos. Como a Europa é um jardim, não é preciso democracia para tratar dele; basta que ela sirva de lição e modelo para os povos que vivem na selva. A esses sim, é preciso impor a democracia para se converterem também em jardins por onde os europeus poderão passear.
Em suma, as razões do excesso do medo e da falta de esperança residem em que não se vislumbra o fim da guerra e nem se sabe até onde irá o empobrecimento decorrente das suas consequências.
As emoções. A psicologia social estuda há muito as emoções que condicionam a participação política. A grande maioria dos estudos, na boa tradição da ciência positivista, pouco cuidam de saber ao serviço de que forças políticas podem as emoções ser mobilizadas, mas os resultados que nos proporcionam são mesmo assim úteis. Como poderão ser utilizadas as emoções dos europeus quando as consequências do desastre ucraniano agravadas pelo desastre ambiental e pela crise nos serviços públicos de saúde no período de pandemia intermitente em que estamos a entrar se tornarem mais óbvias e mais visíveis nos orçamentos e na qualidade de vida das famílias? Como o sistema democrático será tão culpado pelo modo como operou como pelo modo como deixou de operar, é natural que as emoções se centrem na ideia de anti-sistema. Como num sistema democrático as forças políticas mais visíveis estão integradas no sistema, clamar pelo anti-sistema é uma demagogia que visa encobrir o verdadeiro objectivo – a luta contra a democracia e o desejo da autocracia, ou mesmo do fascismo. Obviamente que a esmagadora maioria dos que se juntam a esse clamor e votam pelos partidos fascizantes não é autocrata nem é fascista. É apenas gente empobrecida e defraudada pela democracia, e que não vislumbra outra alternativa. Mas os fascistas sabem que precisam dessa massa de eleitores. Afinal, em última instância, é sempre o povo que oprime o povo. Afinal, na Alemanha nazi era gente comum que ia denunciar à SS “o meu vizinho é judeu”. Mas, para isso, que emoções é necessário mobilizar? Os psicólogos sociais têm estudado com particular atenção a raiva, a ansiedade, o medo e o entusiasmo. Os estudos revelam que a raiva ou ódio são as emoções que mais intensamente atiçam a disposição activa (para votar, por exemplo) porque são as que mais claramente definem o inimigo que é preciso derrotar. E também assinalam que essa participação tem um perfil muito específico. É que não aceita informação fiável que contrarie as razões da raiva ou do ódio. Tende, pois, a ser uma participação irracional, no sentido de assentar numa realidade paralela que nada tem a ver com a realidade real e com a qual não se deixa confrontar. Quem for observando o discurso da extrema direita na Europa, seja o de Santiago Abascal em Espanha ou de André Ventura em Portugal, poderá observar o paulatino processo da criação de realidades paralelas por via da mobilização da raiva e do ódio. O triunfo dessa realidade significa o fim da democracia.
Conteúdo Original por JL - Jornal de Letras, Artes e Ideias